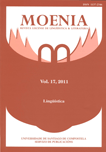0. Um dos aspetos mais consequentes da afirmação dos estudos narrativos, operada a partir dos anos 90 do século xx, foi a sua abertura a disciplinas e a práticas narrativas que a narratologia contemplara, mas não aprofundara plenamente. De modo sintético e apenas para introduzir o que se segue, recordo dois princípios que têm regido os atuais estudos narrativos: o princípio da interdisciplinaridade (cf. , abrindo a análise a outras linguagens, que não apenas a das narrativas literárias ou folclóricas, «no sentido de ampliar e diversificar a nossa conceção das histórias e de providenciar novos caminhos para analisar as suas estruturas e os seus efeitos» ; o princípio da transnarratividade, sustentando um alargamento de horizontes que permite estudar textos não ficcionais com dimensão narrativa e também a rearticulação transmediática de categorias como a personagem. É assim que a chamada narratologia transmodal fundamenta a leitura crítica de poemas ou de textos dramáticos com o apoio de instrumentos conceptuais da análise da narrativa.
Eça de Queirós foi um escritor do seu tempo, mas foi também um precursor de temas e de linguagens ainda emergentes nesse seu tempo. Por outro lado, tanto em textos de reflexão metaliterária, como nos seus romances e contos, Eça manifestou, com frequência e sempre de forma muito sugestiva, aquela capacidade de antecipar as tais linguagens emergentes (como o cinema) e de fazer dialogar a representação literária e os seus dispositivos com outras artes, com destaque para a pintura. O presente texto trata, de forma exploratória e não definitiva, de algumas manifestações da vocação intermediática de um grande romance queirosiano.
1. No capítulo xiv d’Os Maias, a relação de Carlos Eduardo da Maia com Maria Eduarda encontra‑se consolidada e encaminha‑se para um futuro que nada nem ninguém parece capaz de impedir. É então que Maria Eduarda visita, pela primeira e única vez, a casa do Ramalhete, num episódio aparentemente banal, mas que, como quase sempre em Eça, está longe de ser fortuito, até pelas notações de estranheza que nele se encerram. A primeira dessas notações tem uma coloração (digamos) moral, provinda de um gesto ousado, na época: uma senhora encontra‑se com o homem com quem mantém uma relação amorosa em casa dele, sem a presença ou a companhia de outra senhora. Para que conste: se Afonso da Maia não estivesse ausente (nesses dias encontra‑se em Santa Olávia), a visita não poderia acontecer.
A esta segue‑se uma segunda estranheza, de diferente natureza. É quando, depois de ter surpreendido «retratos que Carlos se esquecera de esconder, a coronela de hussards de amazona, madame Rughel decotada, outras ainda» , Maria Eduarda repara num outro retrato; não se trata agora de uma fotografia (como eram os que mencionei), mas de uma tela pintada em que ela observa uma «face descorada, que o tempo fizera lívida, e onde pareciam mais tristes os grandes olhos de árabe, negros e lânguidos» . A figura retratada é, evidentemente, Pedro da Maia, trazido do passado pelo quadro (etimologicamente, retractus significa «trazido de novo»; cf. e suscitando um comentário em que está presente a segunda marca de estranheza:
Ela examinou‑o mais de perto, erguendo uma vela. Não achava que Carlos se parecesse com ele. E voltando‑se muito séria, enquanto Carlos desarrolhava com veneração uma garrafa de velho Chambertin:
―Sabes tu com quem te pareces às vezes?... É extraordinário, mas é verdade. Pareces‑te com minha mãe! .
A reação de Carlos é típica daquele comportamento de ligeireza que caracteriza a personagem ignorante da tragédia que está para acontecer: enquanto abria uma garrafa de vinho, «riu, encantado duma parecença que os aproximava mais, e que o lisonjeava» .
2. O reaparecimento de Pedro da Maia, na cena do romance e sob forma de retrato, não é, longe disso, a única ocorrência deste dispositivo representacional n’Os Maias. Por outras palavras: o recurso ao retrato, como elemento figuracional motivado e com forte incidência semântica, constitui um procedimento reiterado no romance, não com propósito meramente decorativo, mas antes como forma de antecipar ou de reiterar sentidos conjugados com o trânsito das personagens na ação. Como quem diz: num grande romance, como são Os Maias, nada está por acaso, a isto acrescendo que o recurso ao retrato evidencia, nalguns casos, uma dinâmica intermediática que adiante vou sublinhar.
Alguns exemplos: quando se trata de decorar o Ramalhete, «uma bela tela de Constable, o retrato da sogra de Afonso, a condessa de Runa» , transporta para o presente de Carlos (e certamente por opção dele, que orientara a decoração da casa) a feição sombria do ramo da família que há de projetar‑se no infeliz trajeto de vida de seu pai e neto da retratada, Pedro da Maia. Não por acaso, quando começa a aperceber‑se da instabilidade e da perturbação mental de Pedro, é pela evocação do retrato de uma figura do ramo dos Runa que Afonso antecipa o gesto final do filho:
E havia agora uma ideia que, a seu pesar, às vezes o torturava: descobrira a grande parecença de Pedro com um avô de sua mulher, um Runa, de quem existia um retrato em Benfica: este homem extraordinário, com que na casa se metia medo às crianças, enlouquecera ―e julgando‑se Judas enforcara‑se numa figueira... .
Deste Pedro, cujo suicídio motiva a adoção de Carlos pelo avô, fica um retrato, digamos, persistente, que é aquele que encontramos no episódio já comentado. Nele estão pintados «os grandes olhos de árabe, negros e lânguidos», ou seja, os mesmos que o outro retrato, o da figuração verbal e propriamente literária, logo no início do romance anunciara: «A sua linda face oval dum trigueiro cálido, dois olhos maravilhosos e irresistíveis, prontos sempre a humedecer‑se, faziam‑no assemelhar‑se a um belo árabe» . Assim, retrato pintado e retrato literário completam‑se intermediaticamente, numa cena ficcional em que se insiste nos olhos negros de árabe, como marca fisionómica de sombrio exotismo.
É ainda essa marca que Carlos reencontra, na visita final ao Ramalhete abandonado. Nesse momento epilogal, o herói trágico fora já atingido pela desgraça que, por linha de fatalidade hereditária, o atingira. O retrato de Pedro, note‑se, não é meramente descrito, mas sim observado:
Carlos no entanto fora examinar, junto da janela, um quadro que pousava no chão, para ali esquecido e voltado para a parede. Era o retrato do pai, de Pedro da Maia, com as suas luvas de camurça na mão, os grandes olhos árabes na face triste e pálida que o tempo amarelara mais. Colocou-o em cima duma cómoda. E atirando‑lhe uma leve sacudidela com o lenço:
―Não há nada que me faça mais pena do que não ter um retrato do avô!... Em todo o caso este sempre o vou levar para Paris. .
Persiste, deste modo e até às últimas páginas do romance, a figuração pictórica de Pedro. De novo, sobressaem nela a tristeza da face e «os grandes olhos árabes», num retrato que o tempo desgastou mas não cancelou, tal como não anulou a pertinência dos indícios que o retrato exibe e os efeitos trágicos que, dez anos antes, os confirmaram.
Como se não quisesse libertar‑se de um estigma de família e do retrato em que ele está estampado, Carlos levará, então, o retrato do pai para o exílio dourado e parisiense em que vive, desde a (quase) extinção dos Maias. Significativamente e com desgosto do neto, de Afonso da Maia não existe retrato; talvez nenhum fosse capaz de fazer justiça às qualidades morais de uma figura cuja austeridade de costumes dispensa o destaque social e a legitimação de uma tela pintada. De Afonso fica apenas o sucinto retrato literário inscrito no início do romance:
Afonso era um pouco baixo, maciço, de ombros quadrados e fortes: e com a sua face larga de nariz aquilino, a pele corada, quási vermelha, o cabelo branco todo cortado à escovinha, e a barba de neve aguda e longa ―lembrava, como dizia Carlos, um varão esforçado das idades heroicas, um D. Duarte de Meneses ou um Afonso de Albuquerque. E isto fazia sorrir o velho, recordar ao neto, gracejando, quanto as aparências iludem! .
A modéstia e o recato do velho Afonso batem certo com o apagamento material que a ausência do retrato sugere, mas não anulam a instância da imagem e da sua sobrevivência, no plano psicológico. É essa outra imagem que se afirma, num momento de intenso desgosto e remorso, quando Carlos, diante do corpo do avô morto, lamenta, atormentado, que não tenha havido entre ambos «um adeus, uma doce palavra trocada» . Restam as imagens da memória, não materializadas numa tela pintada ou numa fotografia, mas capazes, à sua maneira, de esboçar um retrato tão íntimo e tão privado como elas o são, naquela dilacerada aflição:
Carlos, no entanto, ficara defronte do velho, sem chorar, perdido apenas no espanto daquele brusco fim! Imagens do avô, do avô vivo e forte, cachimbando ao canto do fogão, regando de manhã as roseiras, passavam‑lhe na alma, em tropel, deixando‑lha cada vez mais dorida e negra... .
Prescindindo do ritual social do retrato, Afonso da Maia fica na lembrança do neto por outra forma e não precisa daquele ritual legitimador para que essa permanência aconteça. Inversamente, o sofrível pianista e compositor falhado Vitorino Cruges aparece no episódio final d’Os Maias já quase em pose de retratado, a caminho de uma sessão com o pintor Barradas: «E desabotoou o paletot, mostrou‑se em todo o seu esplendor, com dois corais no peitilho da camisa, e a batuta de marfim metida na abertura do colete» .
Para quem não conseguiu, por inércia própria e por mediocridade do meio em que vivia, atingir uma consagração que lhe escapou, fica a consolação do retrato e o fraco esplendor que ele tentará captar. Vale isto para alguém que, no capítulo VII desabafara: «Se eu fizesse uma bela ópera, quem é que ma representava?» .
3. No âmbito daquilo a que podemos chamar a dialética presença/ausência do retrato, Os Maias oferecem‑nos um outro exemplo de anulação da imagem, com propósito destrutivo e em aparente negação do efeito de prestígio que Cruges buscava. E também, como se verá, por razões e com resultados diferentes do não‑retrato de Afonso da Maia. Refiro‑me àquele gesto vingativo que Pedro pedira ao pai, depois da fuga de Maria Monforte. «Em tudo tenho obedecido ao que Pedro me pediu», declara Afonso a Vilaça, quando recorda a carta que Pedro deixara, com as últimas vontades. E acrescenta: «Quis que dois retratos que havia dela [Maria Monforte] em Arroios fossem destruídos; como você sabe, obtiveram‑se e destruíram‑se» .
Infelizmente para Afonso (e também para Carlos), a destruição dos retratos não elimina as consequências nefastas que a presença de Maria Monforte provoca na família dos Maias. Ela continua bem viva; e assim, o destino e a figura retratada prosseguem o seu trajeto, incluindo‑se nele a presença de um outro retrato que, desejando evocar um certo referente (ou seja: a pessoa retratada), acaba por remeter para outro referente, por engano; mais um daqueles que, de equívoco em equívoco, levam à tragédia.
Trata‑se agora não propriamente de uma identificação precisa, mas de um falso reconhecimento: é quando, fiado no testemunho de Alencar, Vilaça comunica a Afonso que a filha de Maria Monforte e de Pedro (isto é, a irmã de Carlos) morrera. Com efeito, Alencar vira em Paris, em casa de Mme de l’Estorade (ou seja, de Maria Monforte), «um adorável retrato de criança, de olhos negros, cabelo de azeviche, e uma palidez de nácar» ; com base na qualidade da pintura e no testemunho de Maria Monforte («era o retrato da filha que lhe morrera em Londres»; , tudo contado pelo poeta do Segredo do Comendador, Vilaça transmite a Afonso uma ilação equivocada: “Estão assim dissipadas todas as dúvidas […]. O pobre anjinho está numa pátria melhor. E para ela, bem melhor!» .
Mas não era assim. O «pobre anjinho» não era, afinal, a filha que a Monforte arrebatara na sua fuga adúltera, anos antes, mas uma outra, resultado de amores posteriores à dita fuga. Bem mais adiante, Maria Eduarda, ignorante do seu passado, confirma ter tido «uma irmãzinha que morreu em pequena»; e acrescenta: «Tenho em Paris o retrato dela…» . Nessa altura, iniciada já a relação (inconscientemente) incestuosa de Carlos e Maria Eduarda, é já tarde para desfazer o engano. Mas é tempo, então e agora, para se concluir: por mais sofisticado que seja, um determinado retrato ―o tal, visto por Alencar, era até «dum grande pintor inglês» ― pode ser um elemento falacioso e gerar um desastre amoroso. Como bem sabe quem alguma foi burlado por uma imagem enganadora e depois desmentida pela presença real da pessoa física…
4. Não me deterei, pelo menos por agora, noutros retratos que estão presentes n’Os Maias, com maior ou menor pormenor e significado. Todavia, acrescento ao que fica dito o seguinte: o retrato não é obrigatoriamente uma representação estática, em definitivo fixada num suporte, num cenário mediático e numa técnica representacional específica. Enquanto conceito e enquanto prática, ele pode ganhar um certo dinamismo intermediático, conforme atestado nalguns passos d’Os Maias.
No presente contexto, não é necessário insistir no que é sabido: que pela noção de intermedialidade valorizamos o potencial heurístico e analítico da interação potencialmente existente entre discursos de media autónomos. Num sentido estrito que vai além desta formulação genérica, aquela noção capital permite falar em todo o «fenómeno intercomposicional observável em ou característico de um artefacto ou de um grupo de artefactos» ; a partir daqui, aceitamos e aprofundamos uma conceção trans-semiótica dos discursos mediáticos, incluindo nessa dinâmica a tendência para a superação de fronteiras entre linguagens e campos mediáticos.
Pelo que toca à estilística e à simbólica do retrato, aquilo a que chamei dinâmica dos discursos mediáticos está expressivamente ilustrado em diferentes descrições d’Os Maias. Antes de me fixar em dois exemplos que considero muito elucidativos, adianto que eles integram um vasto leque de incursões intermediáticas que surpreendemos no grande romance de Eça; destaca‑se nelas uma espécie de premonição do cinema, prenunciado em episódios que parecem convocar a lógica e os dispositivos daquela grande arte. Com efeito, segundo Eisenstein e conforme recordei noutro local, a propósito do conceito de adaptação (cf. , o romance oitocentista antecipou técnicas que o cinema viria a utilizar coerente e reiteradamente. Bruce Morrissette lembrou isso mesmo: «Grandes planos em Dickens, montagem paralela em Flaubert e afins. A busca de correspondentes literários a ângulos de câmara, tais como picados e contrapicados, cortes analíticos de cenas, encadeados e a maioria de outras formas reconhecíveis de efeitos fílmicos (mesmo acelerações e câmara lenta), levou alguns críticos a recuarem na história, do século xix até Homero e Virgílio» .
O momento em que Afonso da Maia vê Maria Monforte pela primeira vez (cap. ii), a descrição da paisagem de Sintra vista por Cruges («o cume airoso da serra, toda cor de violeta escura, coroada pelo Castelo da Pena»; , o derradeiro encontro de Carlos com o avô («Afonso atravessou o patamar, onde a luz sobre o veludo espalhava um tom de sangue»; , a partida de Maria Eduarda, testemunhada pelo olhar-câmara de João da Ega («grande, muda, toda negra na claridade, à portinhola daquele wagon que para sempre a levava»; são, todos eles e outros mais que agora deixo de lado, tentativas protocinematográficas em registo literário e com feição intermediática.
Do mesmo modo (e volto ao retrato), a representação de personagens e dos seus atributos, em contextos e em utilizações retratísticas, vai além dos protocolos enunciativos de primeira instância (por assim dizer) que regem a sua figuração e completa‑se com recursos subsidiários, em jeito intermediático. Assim, quando Taveira mostra a Carlos uma certa prosa da Gazeta Ilustrada, logo ele reconhece «o retrato do Cohen»; a descrição lembra uma figuração pictórica de propósito apologético, por um pintor retratista que assina um trabalho encomendado:
E a prosa que se alastrava em redor, encaixilhando a face escura de suíças retintas, era um trabalho de seis colunas, em estilo emplumado e cantante, celebrando até aos céus as virtudes domésticas do Cohen, o génio financeiro do Cohen, os ditos de espírito do Cohen, a mobília das salas do Cohen; havia ainda um parágrafo aludindo à festa próxima, ao grande sarau de máscaras do Cohen. E tudo isto vinha assinado ―J. da E.― as iniciais de João da Ega! .
Já no final d’Os Maias, na comovida visita de Carlos e Ega ao espaço lúgubre do Ramalhete abandonado, reaparece o retrato da condessa de Runa. Tendo motivado uma breve écfrase no primeiro capítulo, ele reaparece no capítulo xiv, perante o olhar de Castro Gomes, e encerra, naquele final, o seu longo trânsito pela ação do romance:
No salão nobre os móveis de brocado cor de musgo estavam embrulhados em lençóis de algodão, como amortalhados, exalando um cheiro de múmia a terebintina e cânfora. E no chão, na tela de Constable, encostada à parede, a condessa de Runa, erguendo o seu vestido escarlate de caçadora inglesa, parecia ir dar um passo, sair do caixilho dourado, para partir também, consumar a dispersão da sua raça... .
A condessa de Runa perde, assim, a condição estática de figura pintada, no retrato em que o artista (Constable, neste caso) quis imortalizá‑la, e ganha vida própria. Aquele passo que ela parece dar é já o princípio de um movimento bem sintonizado com as emoções de Carlos e Ega, atormentados pelo reencontro com aquele espaço e pela tal dispersão de raça que a condessa confirma; ambos surpreendem, no gesto em fuga da moldura, o surgimento de uma representação ―cinematográfica, claro― que traz consigo o dinamismo que a pintura não tem. Em contexto literário, a palavra, a pintura e o cinema conjugam‑se para expressarem, solidariamente, mais do que aquilo que o retrato, só por si, poderia dizer.
5. A análise até agora desenvolvida não ambiciona, evidentemente, contemplar de forma exaustiva todas as ocorrências de retratos que, n’Os Maias, ilustram, eventualmente em regime ecfrástico, aspetos importantes do romance e atributos relevantes das suas personagens. Trata‑se apenas de sugerir, nalgumas daquelas ocorrências, um potencial intermediático que se harmoniza com a doutrina do realismo e do naturalismo e também com o pensamento estético queirosiano.
Em termos genéricos: é sabido que o realismo literário manteve ligações estreitas com a pintura, em emulação interartística que conduziu ao romance realista. Em termos mais claros: o realismo literário veio do realismo pictórico, conforme é sabido e Eça tornou evidente na sua defesa do realismo, em 1871 (cf. . Por isso, é frequente encontrar, na metalinguagem doutrinária do realismo e do naturalismo (este, para todos os efeitos, parte de uma base realista), a referência à pintura, como motivação e como modelo operatório. Palavras de Zola: «Não esgotámos a nossa matéria, quando pintámos a cólera, a avareza, o amor» ; e noutro passo: «A literatura, por muito que se diga, não está toda ela no operário, mas também na natureza que pinta e no homem que estuda» .
Justamente no quadro da reflexão doutrinária que levou a cabo, Eça de Queirós recorreu, com alguma frequência, à metalinguagem da pintura e, episodicamente, do retrato e da fotografia, para formular o seu pensamento. Recordo duas conhecidas cartas motivadas pela receção d’O Primo Basílio, ambas de 1878. Numa delas, a Teófilo Braga, confessa a ambição de «pintar a Sociedade portuguesa, tal a qual a fez o Constitucionalismo desde 1830 […]» ; e mais adiante acrescenta que «um traço justo e sóbrio cria mais que a acumulação de tons e valores – como se diz em pintura» . Pouco depois, numa carta ao crítico Rodrigues de Freitas, explica qual o projeto do realismo: “Fazer o quadro do mundo moderno […]; queremos fazer a fotografia, ia quase a dizer a caricatura do velho mundo burguês, sentimental, devoto, católico, explorador, aristocrático, etc.” .
Não se fala aqui expressamente em retrato. Todavia, não é difícil perceber que é disso que pode tratar‑se, particularmente quando sabemos duas coisas. Uma: num dos seus textos doutrinários mais assertivos ―melhor: esboço de texto, motivado pela famosa crítica de Machado de Assis aos romances O Crime do Padre Amaro (segunda versão) e O Primo Basílio―, Eça dissertou longamente sobre a composição da personagem, em clave retratística. Nessa dissertação estava em causa a lógica e a estética do realismo, oposta à lógica e à estética do idealismo (ou do romantismo), uma e outra contrastivamente ilustradas pelo trabalho do romancista associado ao labor do pintor. Segundo: em ambos aqueles romances, mais até do que nos seguintes, incluindo Os Maias, o retrato de personagem constitui um elemento crucial para a fundamentação de teses em desenvolvimento. Retrato literário, em primeira instância, mas também retrato enquanto representação iconográfica, por vezes complementar daquele; é o caso de um daguerreótipo da mãe de Amaro, que prenuncia a sensualidade do jovem sacerdote, imagem em que ela é apresentada como «uma mulher forte, de sobrancelhas cerradas, a boca larga e sensualmente fendida, e uma cor ardente» .
6. O daguerreótipo preparou o surgimento da fotografia; depois desta veio o cinema. Todos conviveram com o retrato pintado, de longa e diversificada tradição na arte ocidental.
Quando o romance oitocentista (em particular o realista e o naturalista) materializou a propensão mimética que a sua estética justificava, o retrato de personagem constituiu‑se como dispositivo técnico inevitável. Indo além do procedimento de que falava Stendhal (fazer do romance um espelho que se passeia ao longo de um caminho), o retrato literário foi mais ambicioso: procurou «transmitir a densidade psicológica e […] deixar transparecer a personalidade do modelo em detrimento de uma excessiva idealização que esvazia, quase por completo, a intimidade e o caráter do retratado» .
Eça de Queirós, desde muito cedo interessado pela pintura (mesmo quando não a conhecia de visu…), nos diversos aspetos da sua existência cultural e social, dialogou com ela e com a retratística (cf. . O século xix, para mais, foi um tempo de intensa valorização social do retrato e também do autorretrato (cf. . Os termos em que Eça replicou ficcionalmente essa valorização envolvem uma componente técnica (no tocante à elaboração do retrato literário), mas não só essa componente. Foi pela dimensão intermediática que incutiu ao retrato inscrito na ficção que o grande escritor evidenciou a sua vocação e o seu talento para fazer interagir a literatura com outras artes, em particular com as da imagem.