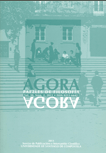Com um “Prefácio” (pp. 9-11) de João Teixeira Lopes, que lembra que Hugo Monteiro, autor deste livro, entende o “pensamento como prática” (p. 11), arranca esta meditação cujo sujeito central (e não objeto colateral) são as “migrações de fuga”, segundo assinala o autor na “Introdução” (pp. 13-16). O livro abrange três partes: “De uma cidadania de fronteiras às fronteiras da cidadania”, “Das fronteiras dos Direitos Humanos aos Direitos Humanos como fronteira” e “Da crítica da hospitalidade à hospitalidade como crítica: a coletivização da solidariedade”.
A parte I, “De uma cidadania de fronteiras às fronteiras da cidadania” (pp. 17-46), consta de dois capítulos: um, sobre “Cidadania de fronteiras” e outro, sobre “Fronteiras da cidadania: entre o centro e as margens”.
O capítulo 1, “Cidadania de fronteiras” (pp. 19-33), é uma primeira aproximação do conceito de fronteira, necessariamente redefinido. O ponto de partida, e contraponto, é a migração portuguesa à Europa como consequência da explosão da crise económica e a imposição de políticas de austeridade, da mão da chamada troika, a partir de 2011 em Portugal. Foi, para a cidadania portuguesa o redescobrimento da fronteira europeia. Do outro lado, estão as chamadas crises de refugiados, na mesma década, e em termos mais gerais e abrangentes as “migrações de fuga”. Além disso e frente a isso, na época e contexto da globalização, as fronteiras não existem, ou têm um significado muito diferente, para turistas, magnatas e, até, trabalhadores cosmopolitas, beneficiários da economia, a política e a cultura mundializadas. Em consequência, as fronteiras são hoje “barreiras excludentes, que se apagam para algumas pessoas e se erigem como nunca para outras” (p. 22). As fronteiras assinalam linhas de demarcação e exclusão não apenas para fora das comunidades de “cidadãos do mundo”, mas também, e muito, dentro dessas mesmas comunidades. Como, por exemplo, nomeadamente a “comunidade política ocidental” definida pelo “modo de vida europeu”, que acaba por estabelecer “fronteiras sólidas” (pp. 30-31). A noção de “migrações de fuga” (pp. 24-27) permite tipificar aqueles migrantes, que, à diferença dos refugiados de que falava Hannah Arendt, as pessoas que perdem a sua origem no deslocamento forçado, são pessoas já estão privadas da (sua) origem na própria origem. Não é infrequente que as migrantes, pessoas e populações, se achem racializadas e colonizadas. Mas, o colonialismo hic et nunc, como denunciara outrora Frantz Fanon (pp. 28-29), não é apenas (político) dos povos, mas também, e sobretudo, (social) das pessoas. As fronteiras funcionam como um “confim” (pp. 31-33), convertendo a cidadania num “monopólio nacional” (p. 33).
O capítulo 2, “Fronteiras da cidadania: entre o centro e as margens” (pp. 35-46), opõe a definição e caracterização da cidadania segundo os parâmetros vigentes com um esboço de “contra-cidadanias”. Hugo Monteiro, levando a sua procura além dos “bons sentimentos” (p. 35), analisa e sintetiza a constituição da cidadania, moldada pelas práticas e poderes vigentes, em sete passos: “dentro da fronteira” (pp. 36-37), “centralidades” (p. 37), “como um?” (p. 38), “unidade e consenso” (pp. 38-39), “globalização” (p. 39), “nós e os outros” (pp. 39-40), “cada qual no seu lugar” (pp. 40-41). O resultado é uma armatura real e efetiva, para os cosmopolitas cidadãs e cidadãos do mundo (p. 42), e um constructo formal e apenas discursivo para deslocar, e colocar em terra de ninguém, as migrações e os migrantes em fuga (pp. 41-42). A alternativa, são lembrados Achille Mbembe e Davide Enia, começa com que as migrantes, pessoas e populações, falem “por si mesmas” e “de si mesmas” (pp. 43-46).
A parte II, “Das fronteiras dos Direitos Humanos aos Direitos Humanos como fronteira” (pp. 47-77), abrange dois capítulos: o primeiro “Fronteiras dos Direitos Humanos”, e o segundo “Os Direitos Humanos como fronteira”.
No capítulo 3, “Fronteiras dos Direitos Humanos” (pp. 49-60), Monteiro examina: o lugar dos Direitos Humanos na globalização; o limite da ação transformadora dos Direitos Humanos; e, em ambas as problemáticas, a constituição dos Direitos Humanos como realidades muradas, i.e., como fronteiras. Em primeiro lugar (pp. 50-53), recolhe a crítica cedia de Karl Marx na germinação dos direitos humanos na Revolução Francesa, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que salienta o seu teor individual e abstrato, resultando efetivamente direitos apenas de indivíduos e cidadãos: são afinal os direitos de uma espécie de Robinson Crusoe, um indivíduo não social, consagrados por um Estado. Apesar das diferenças, há uma continuidade na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e o seu papel na globalização neoliberal (pp. 54-57): dar cobertura ideológica às intervenções imperialistas e neocolonialistas propiciadas pele capitalismo mundializado; naturalizar a isenção de reconhecimento das pessoas subalternizadas e até a privação de humanidade aos corpos das vítimas. Por outras palavras, “a franja minoritária de detentores de privilégios isenta-se da norma, assim como, no extremo oposto da hierarquia neoliberal, as mais precárias das vítimas não são contempladas pelos direitos mais básicos” (p. 57). A posta dos Direitos Humanos perante os seus próprios limites leva, em consequência e como conclusão, à exigência ética e política de “suplementar os Direitos Humanos a partir doutras vozes e sujeitos”, i.e., negar criativamente a norma para a tornar outra, cuja fonte radique na própria comunidade de vítimas (p. 59).
O capítulo 4, “Os Direitos Humanos como fronteira” (pp. 61-77), começa com uma evocação do filme Bamako (2006) realizado por Abderrahmane Sissako onde é representado o julgamento das instituições internacionais (ocidentais) que têm substituído o regime do chicote pela sujeição pela dívida, dando continuidade ao processo colonial de submetimento e exploração do continente africano (pp. 61-62). Este proémio serve para lançar uma reflexão sobre o carater de fronteira dos Direitos Humanos a partir de Hannah Arendt, Giorgio Agambem e Judith Butler. Com Arendt, “Antes dos direitos” (pp. 63-66), são lembradas a desumanização inerente à condição de pária e apátrida e a formulação, antecedente a todo o direito, do “direito a ter direitos” (p. 65). Segue, sob o rótulo “corpos migratórios e vida nua” (pp. 66-68), o repasse e denúncia, da mão de Agambem, da política sobre sujeitos desprovidos de todo o direito, reduzidos apenas a corpos vivos, que, com o precedente do tratamento concentracionário e exterminador das pessoas e as coletividades levado a feito pelo nazismo, tem a sua plasmação nas migrações contemporâneas. Finalmente, com Butler, em primeiro lugar (pp. 69-70), é revisado o conceito e funcionamento do “quadro interpretativo” (p. 69), que permite evitar, desativar e alterar, até inverter, a perceção de um facto. Depois, em segundo lugar (pp. 71-73), é revista a sua dupla noção de precariedade, incidindo tanto no seu sentido político, como, mais em profundidade, no seu sentido existencial (p. 72). Isto último conecta, seguindo com Butler, com as considerações acerca da vida digna de luto e digna de pranto (p. 73). De isto em particular, são retiradas duas consequências (pp. 74-75): a “politização do trabalho do luto” e “a interferência, potencialmente desestabilizadora, no interior das fronteiras assinaladas”. E, no total, Monteiro aposta em que “abrir fronteiras é acolher a alteridade, sem a assimilar ou anular” (p. 76), até afirmar que “somos identitariamente migrantes” (p. 77).
A parte III, “Da crítica da hospitalidade à hospitalidade como crítica: a coletivização da solidariedade” (pp. 79-139), compreende três capítulos: “Cosmopolitismo e hospitalidade”, “Hospitalidade como crítica” e “Redefinição da política pelos movimentos: da crítica do humanitarismo à Carta de Lampedusa”.
O capítulo 5, “Cosmopolitismo e hospitalidade” (pp. 81-99), contém uma revisão crítica (e formulação alternativa) do cosmopolitismo, a partir da exploração do seu conteúdo, a hospitalidade, que aparece como o seu reverso e acaba por surgir como o seu adverso. Lembra o autor a hipocrisia do cosmopolitismo burguês, em palavras de Karl Marx e Friedrich Engels, que hoje permitem caraterizar a condição dos chamados cidadãos e cidadãs do mundo que, instalados no privilégio social, se movem, e vivem, além do Estado e as fronteiras (pp. 81-82). Frente a esta “tradição cosmopolita”, é imperioso indagar e propiciar “outra hospitalidade”, pensando a experiência migrante, mas evitando o “ventriloquismo”, falar do outro sem a palavra do outro (pp. 82-85). O primeiro passo é rever, em Immanuel Kant, as formulações originárias do cosmopolitismo e a hospitalidade: esta, no quadro de uma conceção estatal-legal do cosmopolitismo, é entendida como um “direito de visita”. Para Monteiro, chegou o momento de encarar, na teoria e na prática, a hospitalidade como um “direito de residência”, que vai apresentar, eis o segundo passo, seguindo Jacques Derrida, pensador da hospitalidade absoluta, ou incondicionada, que revoluciona, como uma chamada permanente de justiça, a hospitalidade encarada no interior do direito (pp. 87-90). Esta posição, confrontada com o “delito de hospitalidade” (crime?, pergunta Monteiro), tem levado às formas de desobediência ética e solidária (e castigo?, alerta Monteiro), assumida por pessoas particulares e organizações ativistas, para as quais o dever de hospitalidade excede o exercício limitado e limitante enquadrado pelas leis (p. 99).
O capítulo 6, “Hospitalidade como crítica” (pp. 101-119), tem como motivo condutor as “cidades-refúgio”, propostas e impulsadas na década de 90 sob a égide do Parlamento Internacional de Escritores, estando envolvido nesse empreendimento, entre outros, Derrida, teorizador e ativista de uma hospitalidade incondicional. A cidade-refúgio, que tem o seu antecedente na “cidade franca” e conhece formas atuais semelhantes como a “cidade-santuário”, situa-se nos limites do Estado, ora como questionamento ora, sobretudo, como correção sua: é o lugar para reinventar a democracia (pp. 101-106). É também o lugar, com os seus tempos, para coletivizar a solidariedade, por meio da imersão das pessoas migrantes nas mobilizações e associações locais (pp. 106-111). Isto constituiria a outra face, e é a resposta ética, da criminalização da migração: as “crimigrações”, com a sua sequela: os delitos de hospitalidade (pp. 111-115). Em suma, a “hospitalidade”, desenvolvida nos âmbitos privado e público, sendo a sua incondicionalidade entendida de modo vário, funciona como motor crítico e alumiador de uma alternativa, radicada na cidade reinventada pela participação migrante orientada pela justiça, à zona franca (à libre circulação e proteção irrestrita) do capital (pp. 115-119).
O capítulo 7, “Redefinição da política pelos movimentos: da crítica do humanitarismo à Carta de Lampedusa” (pp. 121-139), parte do vaticínio de Angela Davis segundo o qual o “movimento dos refugiados é o principal movimento do século XXI” (p. 122) e da redefinição da cidadania e o delineamento de um “cosmopolitismo de resistência” sustentando pela interação dos atores sociais envolvidos face umas políticas de migrações baseadas em critérios económicos de acolhida e assimilação, i.e., de exploração de migrantes (pp. 122-124). O ponto é posto na auto-organização, como matriz da ação frente à intervenção pública e privada de cunhos, respetivos, humanitário e caritativo (pp. 124-126). Este posicionamento conduz, i.e., deve conduzir, em termos gerais, a uma redefinição da política que, baseada na responsabilidade e no compromisso, toma um cariz ético (pp. 126-127) e, em termos mais concretos, acarreta uma crítica geral da “ética humanitária”, que preside as políticas imperantes de acolhimento e assimilação de migrantes (pp. 127-131). O humanitarismo descansa numa noção uniforme de humanidade, compartilhada por todos os seres humanas, que, por alguma fatalidade, pode ser quebrada pelo sofrimento: eis a ocasião de compadecer e, potencialmente, ajudar a vítima. Cair no estado de vítima é perder a condição semelhante que liga toda a humanidade. Por isso, a vítima, se é auxiliada, é socorrida sem, propriamente, contar com ela, sem saber dela nem querer dela. Monteiro sintetiza, em quatro eixos, esta estratégia humanitária: silenciamento (do discurso) das vítimas, promoção (da imagem) do ator humanitário, elevação (do poder) da ação humanitária, imposição de uma norma geral ocultadora da própria opressão que produz (p. 130). A alternativa, “passar de fronteiras” (pp. 131-133), com uma “ética (do) passante”, segundo a formulação de Mbembe, remete para uma “ética cosmopolítica insurgente” (pp. 133-135) que comporta: um “direito de entrada e permanência” (pp. 135-136), uma “reconstrução cidadã” (pp. 136-137), uma “hospitalidade crítica” (pp. 137-138) e um “cosmopolitismo insurgente” (pp. 138-139). A Carta de Lampedusa alicerça esta meditação, que é previsão e proposição de uma terra em que, para todas as pessoas, seja efetivo “o direito a uma vida com direitos” (p. 139).
No final, “Para uma conclusão: Maria bonita, onde vamos morar?” (pp. 141-145), Hugo Monteiro opta por levantar quatro interrogações, acerca da migração, motivadas: pela guerra de Ucrânia, a pandemia do Covid-19, o próprio título deste libro (“Migrações e hospitalidades: crítica do cosmopolitismo nas fronteiras do século”) e duas citações da escritora Maria Gabriela Llansol: o exílio “um sítio, ou uma distância recôndita onde nascera” (p. 144) e “já descortino a ausência de fronteiras e terrenos vagos” (p. 145).
A relação de textos citados, “Referências bibliográficas” (pp. 147-154), fecha este interessante livro sobre migrações e migrantes, uma meditação proativa sobre a hospitalidade, que faz pensar e convida a agir.