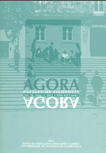Para Xosé Ramón Mariño Ferro e Emílio Araúxo, em louvor do ímpeto de festa
Nostalgie des sociétés d’autrefois, recherche des traces et des « survivances » : la mission de l’ethnologue semble être amarré au passé des sociétés. D’où son écriture, qualifié par le terme de « présent ethnographique », qui devait transmettre la vérité d’un présent éternel des peuples lointains et qu’on disait « sans Histoire ». Pourtant, les informations sont recueillies dans un monde vécu et actuel, historique, « ici et maintenant ». Et l’ethnologue lui-même, comme individu et citoyen, n’est pas hors du monde ni hors du temps. Il est bien contemporain des lieux et des personnes qui forment ses « objets » de recherche.
Michel Agier, La Sagesse de l’Ethnologue
1. Festas, riso e campo de possibilidades
O riso popular das festas do ciclo de Inverno e carnavais convoca bobos e bufões, gigantes e anões, monstros e palhaços, caretos e chocalheiros, boteiros e cigarróns, pantallas e madamas. Numa obra em que pretende contribuir para a decifração da simbologia tradicional europeia através da etnografia galega, com uma enorme erudição conjugada com um conhecimento localizado, o antropólogo galego Xosé Ramón Mariño Ferro organiza de modo pormenorizado e comparativo as várias personificações do ciclo de Carnaval, que traduziram longamente relações, interconhecimento, medos e ódios étnicos e de género bem arreigados: os animais concretos, como o galo, a vaca, o touro, o cavalo, a mula, o burro, o urso; os velhos, desluzidos e estragados, a aproximarem-se inelutavelmente da morte; as madamas e os galáns, em paródia da vanidade; os selvagens, os tontos e os ciganos, remetidos para a selvajaria, através de peles, perucas grosseiras e barbas negras, mas também evidenciando a fragilidade social quotidiana face à dominação e a replicação popular de categorias da dominação; as mulheres; os demónios; os bonecos .
Contaminadas com uma força que repele e compele, de uma modalidade de numinosum –o sagrado selvagem, que provoca temor, por ser extraordinário, misterioso e fascinante –, nas recolhas a que se reporta Mariño Ferro as máscaras remetiam para uma sociedade em que a festa inaugurava uma rotura no tempo (Callois, 1950). Regulada pelo segredo, pelo discurso escondido, pelo culto dos mortos e pelos ritos de passagem, reaparecia anualmente numa fratura temporal sobre o quotidiano de um grupo localmente circunscrito. Essa cisão invertia a contenção do dia-a-dia e estimulava os excessos alimentares, alcoólicos, comportamentais, verbais, monetários, etc. Nesse mundo ao revés pontuava a comida, gorda e excessiva, que estimulava a gula, em contraponto com os quotidianos frugais; a bebida, que seria interdita nos quarenta dias seguintes; o sexo, com a remissão para a luxúria, através de personagens e atuações atrevidas e versos picarescos, com corpos que se tocavam com a dança e a música; o riso generalizado, universal, que contagiava e subvertia; a sujidade, com a conspurcação associada à impureza e ao pecado.
O limiar entre os quotidianos e a reordenação quaresmal realizava-se em festa e transgressão. Inserida num ciclo pontuado por outras cerimónias, adequava-se aos ritmos agrários e, como eles, parecia repetir-se desde sempre e para sempre. Em quebra com as rotinas, configurava episodicamente um mundo às avessas, no caso dos Carnavais e de algumas festas de Inverno. Poderia ser entendida quer como uma irrupção ritual no dia-a-dia, quer como uma forma de contestação que infringia o discurso escondido ; , quer ainda como enquadramento num tempo cíclico, que regenerava uma ordem cósmica e social.
A proposta de que parto, através de uma alusão etnográfica a uma das visitas atuais dos felos de Maceda, na planície encaixada de Tioira, interroga em cinco momentos esse tempo de máscaras, e a relação entre a tradição e a contemporaneidade, mobilizadora para o entendimento do porvir. Pretendo encarar as festas tradicionais como contemporâneas, feitas por pessoas com quem nos cruzamos na universidade, nas ruas, nas lojas ou nos cinemas. Localmente, convive-se com elas num formato que as populações adequaram às suas possibilidades e interesses, num tempo que foi mudando, com os mecanismos de reprodução social inerentes aos diversos grupos a ajustarem-se, sem que necessariamente os lugares ocupados se esbatam, numa sociedade que foi sobretudo agrícola e que agora é também agrícola. Reportar-me-ei a uma etnopoética que remeteu para as festas de Maceda, sobretudo em Tioira, e que respondeu a um repto de Emílio Araúxo, de que resultou um pequeno caderno , de distribuição não venal.
Quando a pandemia de Covid 19 conduziu à suspensão das festas, marcando uma fronteira entre o antes e o depois, adquiriu um sentido acrescido retomar a incitação de Johnathan Inda e Renato Rosaldo, e fazer enfoque nos processos de grande escala –os fluxos de sujeitos e objetos– através dos quais o mundo se interconecta, e na forma como os indivíduos lhes respondem de maneiras culturalmente específicas . O tempo recente tornou-nos sisudos e amedrontados pela enfermidade. Aqui, retomo o grotesco, através do riso e da resistência, numa etnografia da infrapolítica , argumentando com os modos processuais de transformação das festas. O carnaval, dentro do qual cabem certas ações e movimentos contestatários, é um exercício de imaginação em que o impossível se torna possível. Sobretudo, não constitui um meio para atingir algo que vá além de si próprio; é um fim em si mesmo, um meio puro, como lhe chamou Walter Benjamin (apud , cujas melhores armas estão na profanação, no riso, na inversão.
Evocando o que alguns etnógrafos escreveram, habitantes locais dizem aos antropólogos que se trata de festas “antigas”, “tradições dos antepassados”, “do tempo dos romanos” ou “de antes dos romanos”. Ensaiam em vários casos interpretações do que ocorre, relembram as lendas e mitos explicativos, numa etnografia espontânea que se distancia da conceção de tradição inventada . Ao invés do que refere Maurice Bloch , os habitantes da planície sobre que se debruça Maceda, com o cenário da serra de S. Mamede, sabem por que razões atuam, e aludem ao passado e à vontade presente de fruir, explicadas aos antropólogos e outros estranhos.
Remetidas para o domínio da «tradição», glosada como invenção ., as celebrações de Carnaval são hoje protagonizadas por gente escolarizada, que circula pelo mundo em trabalho e em lazer, que usa dos meios ao dispor, as redes sociais e dispositivos fotográficos, de registo e de divulgação. Os mesmos que num dia se vestem de felos, dois dias antes podem ter estado em turismo ou em trabalho numa capital europeia, a dançar numa discoteca, a comer uma pizza ou uma tapa, a atualizar o Instagram ou o Facebook com imagens em que envergam o traje carnavalesco, e em fato de banho, numas férias na Costa da Morte, em Tenerife ou em Benidorm. Vivemos tempos cruzados , conquanto as ciências sociais tenham recorrido demasiado à remissão para um tempo distinto quando os seus praticantes se declaravam no terreno, numa prática recorrente de alocronia .
Abordar a temporalidade, requer percorrer o século XX, estas duas primeiras décadas do século XXI e chegar à fronteira pandémica em que mergulhámos em 2020-21. Nela perpassa o tempo longo das sociedades agrárias, abalado em Espanha por uma guerra civil e uma paz incivil, que interditaram as celebrações de Carnaval; pela plenitude demográfica que será quebrada com as massivas migrações europeias, a partir da década de 1950 –dos campos apinhados, do aproveitamento dos terrenos incultos, da florestação que invadiu terrenos baldios, da depauperação extrema das famílias camponesas e dos assalariados rurais, até à rarefação de gente, à perda de impulso festivo, aos campos em abandono; pelo final da ditadura franquista, com a Transición, a aprendizagem da democracia e o crescendo do ímpeto cerimonial ; por um mundo rural com novas modalidades de existência e fruição, que secundarizou a agricultura; por modos de emblematização, patrimonialização, mercantilização e espetacularização do Entroido, até aos últimos anos de suspensão, em virtude da pandemia.
Os dados do terreno remetem para um retorno ritual às aldeias e vilas galegas, e evidenciam uma relação mais distanciada com o território, que conciliou o uso dos recursos, naturais e culturais, com um afastamento duradouro dos que os utilizam, substituindo o cultivo dos cereais pela floresta e pela vinha, a primeira com consequências legíveis nos fogos estivais, a segunda propiciando experiências vinícolas e a melhoria acentuada dos vinhos nas regiões galegas em que se produz. Também os contornos da sociedade rural se alteraram, nos modos de vida e no intercâmbio com os centros urbanos, num processo contínuo e com dinâmicas diferenciadas. O campo e a cidade não remetem para duas ordens fixas, mas para uma modificação constante, em referência mútua. O êxodo serôdio transfere a ruralidade para muitas memórias e práticas citadinas, fundindo e ampliando saberes do passado sob um olhar atual.
No caso galego, a diminuição acentuada da agricultura para a reprodução social das famílias correspondeu a um conjunto de estratégias com alguma flexibilidade nas respostas: pluriatividade, incremento do turismo local, migrações, aumento da escolaridade. Com o apoio dos media e das novas redes sociais, as aldeias enquadraram nas suas formas reprodutivas a tentativa de universalização do que é especificamente local, num processo em que o associativismo local, alguns notáveis e, sobretudo, os media, desempenharam um papel importante. Os entroidos não progrediram numa única direção, antes oscilaram entre momentos de suspensão, revitalizações, ressignificações, invenções.
2. Felonia e contemporaneidade: um contexto num tempo longo
Tioira localiza-se numa imensa planura, com uma paisagem rasa de milho e de vacas, num vale largo com a serra de S. Mamede em fundo. É esta a terra dos felos, que chegam em grupo, com as suas máscaras, o seu fato que se tornou requintado, com um ar trocista, insólito, incitante. Que caminho e quantos tempos percorreram os felos até chegar ao momento em que nos surpreendem, que bagagem ganharam, o que aprenderam a ocultar, o que mostram? Como em vários anos das últimas décadas em que ali me desloquei, no Carnaval de 2019 acudiam em grupo, até em família, porque as mulheres e as crianças passaram a poder envergar o fato dourado e elegante, conquistando o privilégio transgressor que foi reservado aos homens e que está em mudança desde o final do século passado: “O felo impón. Dá medo. Mesmo arrepío nos máis novos e nos de fóra que se achegan a Maceda no Entroido. Podemos – mesmo debemos –atacalo verbalmente para provocar a súa irascibilidade milenaria. Endexamais tocalo nin tentar sacarlle a carauta. Transgride as normas. Exerce a súa autoridade nesa andaina”
Um vizinho chega com a filha, o genro, o neto pequeno, todos envergando a máscara de felo. Sigo-os pelas ruas da aldeia, enquanto o dia vai desaparecendo e o frio aumenta. Param às dezenas no «Lar dos Felos», comem empanada e filloas, bebem vinho, refrigerantes ou café quente. Tiram então a máscara, que deixam alinhada com outras idênticas. O que nelas varia é o animal da serra que nela está representado. É irresistível para as máquinas fotográficas, para o registo dos antropólogos e para os vizinhos da aldeia, que também realizam uma etnografia espontânea. Percorrem, num circuito divulgado, as aldeias da serra e da chã: Pías, Castro de Escuadro, Santirso, Xinzo da Costa, Celeirón, Barxela, Vilardecás, Carguizoi, Sarreaus, Tioira. Em Maceda, onde se juntam depois, sai também a Marella, uma representação animal, em grande estúrdia, com lançamento de farinha.
Restabelecidos do esforço em cada uma das aldeias, que os acolhem com uma mesa recheada de vitualhas, depois de correr à desfilada pelos «pobos», agitando os chocalhos, voltam ao mesmo. Aí vão eles, com a máscara do riso em cima das caras jubilosas, no esforço a que o ritmo da festa retira o cansaço, convocando o nosso riso. Se, como no cachimbo de Magritte, a máscara não é o riso, reencontramo-lo depois nas faces das pessoas de todas as idades. Ri-se –e a alegria de uns apela à dos outros, mesmo se o que ri é uma máscara pintada, que nos surpreende e desencadeia um mimetismo de situação, com a verosimilhança do riso da máscara.
No Carnaval de Tioira –ou por todo o concello de Maceda– mandam eles, os felos, numa atualização desse poder relativo, camuflado todo o resto do ano, oculto dentro do grupo. Circulam pela estrada, na chã que é do milho e das vacas todos os dias, mas que no Entroido é conquistada pelas máscaras e pelo riso. Ali diz-se a risa, e feminiza-se o ato de rir, como em Trás-os-Montes. A risa ri na máscara, com o descaramento desarmante de uma meia-lua de dentes alvos. Retirada a máscara que ri, riem as mulheres, riem os moços e os mais velhos, com a barrigada alegre da festa. Ri cada aldeia do concello de Maceda, com os seus vizinhos estrategicamente dispostos para ver os felos que o palmilham, com o riso inquieto e depois farto, partilhado, duradouro.
A máscara expressa o contentamento do que sucede sem parar, do que parte e do que regressa, do que perde substância e reencarna. Revela as metamorfoses, a violação de fronteiras sociais pelo ridículo, a negação da identidade de sentido único. O riso dos felos de Maceda evidencia três características fundamentais, e devedoras da sistematização de Bakhtin: ali todos riem, logo, o riso é geral; em segundo lugar, é universal, contém todas as coisas e toda gente, porque durante o tempo de Entroido tudo parece cómico e é percebido no seu lado trocista, no seu galhofeiro relativismo; finalmente, é ambivalente, alegre e pleno de alvoroço, mas também trapaceiro e sarcástico. A risa nega e afirma, amortalha e ressuscita – assim sintetiza Bakhtin a criação de um mundo segundo e de uma segunda vida, que criam uma dualidade do mundo, legível nas festas, no seu conteúdo essencial, no seu sentido profundo, na sua conceção do mundo, evidenciado pelo riso na Idade Média e no Renascimento .
Felonia é sinónimo de engano e de rebelião de um vassalo contra o seu senhor. Terá sido a obstinação dos fracos, a aleivosia em relação aos senhores feudais, a renitência face à dominação, protagonizada pelo felo, que ri sempre, dentro e fora do fato, que se tornou elegante, como paródia dos poderosos. Sabemos que a cultura popular é rebelde, seja em defesa dos costumes, seja com uma vida melhor em mira. Resiste tão ativamente como pode e tão passivamente como deve, em função dos momentos e das forças que consegue conjugar. No tempo longo de seis mil anos da agricultura, acompanhando calendários lunares e solares, o ritmo dos trabalhos e das festas foi gerido pelo cristianismo nos últimos dois mil anos. Os felos – ou outros mascarados, com diversas designações, com fatos mais ou menos elaborados, mas com aquele riso ou com outro ainda mais espaventoso, aquela boca desenhada em meia-lua, que nos faz ser miméticos, e rir–, aproveitaram as gretas do tempo para irromper, subvertendo um estado de coisas, pondo em guarda os que representam o mando civil, incivil ou religioso, em demonstração de quanto de ilusório tem o poder.
Os grupos dominantes não gostam do riso, nem do Entroido, porque se entreveem no ridículo da mofa corrosiva, na fanfarronada alegre, na sátira ridícula do riso popular. A risa foi sempre temida, também pela sua remissão para o baixo-ventre dos insultos, do sexo, e dos convites vexatórios. Os poderes religiosos e civis, emparelhados num idêntico desígnio, quiseram regulamentar o riso. Quanto mais tremendo foi o poder, mais densas tiveram de se tornar as máscaras – mas continuaram a rir. Há pela Galiza registo da revolta dos servos medievais, em irmandade, contra as duras taxas, os impostos, as rendas, que bem depois da implantação de formatos liberais continuaram a onerar os galegos. Muitos partiram, emigraram, deslocando-se a pé para terras de Castela, para as margens do Douro português –cujos socalcos escavaram, a par com os portugueses que eram tão pobres como eles–, ou para mais longe, cruzando o oceano. O vinho a que se chama do Porto não correria doce nas gargantas sem esse abrir da terra em geios, com o esforço dos braços dos homens galegos e dos seus equivalentes do outro lado da fronteira. Em Maceda também resistiram, num tempo longo; apuseram a máscara e foram felos, gente de felonia, que ri e desafia.
Riem os felos na sua máscara, riem os que veem os mascarados, entre iguais. Quem se torna objeto de riso, é alvo de humilhação e assuada social. Por isso, os ditadores não o apreciavam, nem às festas com o povo jubiloso nas ruas. Muito menos toleravam as máscaras, porque sabiam que atrás do poder que achavam ser seu, do seu triste, vigiado e solitário poder, eram ridículos, e os povos sabiam – e riam deles. Depois do golpe de julho de 1936, o Carnaval foi o primeiro feriado retirado do calendário por Franco, nas zonas que foram ocupadas, logo no início de fevereiro de 1937. O Entroido galego era ameaçador, com os seus textos de crítica social, o meneio erótico das personagens, a incentivar ao gozo e a uma existência vivida com prazer, as suas máscaras que riam. Antes mesmo de eliminar o dia que celebrava a República, em 14 de abril, Franco baniu do calendário o riso do Entrudo. O medo do ridículo mandava mais que o ditador. Contudo, nem então os felos de Maceda deixaram de sair, embora as autoridades obrigassem a que não se cobrisse a cara .
Os falangistas mataram por toda a Galiza, dizimaram famílias, tornaram o medo algo de pastoso, que entrou pelas casas e pelas vidas, tentando remeter o riso para o domínio oculto. Maceda foi uma das muitas terras galegas que resistiu aos golpistas, com a sua população e os carrilanos. Tragicamente reprimidos, foram alvo de represálias e de tentativas de aniquilamento. Quanto mais terrível é o poder, mais espessa tem de ser a máscara. Já não na rua, mas dentro de casa, sabiam que o riso era uma arma. Ria-se, no recato doméstico, entre si, nos grupos sólidos em que a confiança era possível, à espera do momento em que se tornasse possível reconquistar o espaço da rua para o riso.
No Entroido de Maceda, os felos circulam de autocarro pelas aldeias da comarca, onde param, provocam e riem. Trazem o seu júbilo alegre de um tempo longo, de uma sociedade agrícola que interrompia o tempo da produção para a festa e para a transgressão. Narram com as suas máscaras esse tempo, que passaria depois pela suspensão do riso, primeiro pelo franquismo, depois pelos movimentos demográficos de esvaziamento que entristeceram as comunidades. No pós-franquismo, emerge uma tentativa de riso crítico, com o final da proscrição do Carnaval. Em tempos mais recentes, duas modalidades se conjugaram: por um lado, o riso vendável, de dentro para fora; por outro, o riso como património, ao mesmo tempo que se sente –como pedia Mário Benedetti– a falta de um museu das alegrias. Em muitos dos Carnavais –na Galiza, como em Portugal– medrou uma estetização da vida festiva, que lhe trouxe contornos de espetáculo de gala, o que debilitou e reduziu o impacto carnavalesco. Assim, podemos encontrar cinco fases no tempo longo do riso e da festa: o riso continuado de uma sociedade rural, associado a uma cultura popular; o riso paralisado, pelo franquismo e a emigração; o riso crítico, da cidadania que se reconstrói no final da ditadura; o riso patrimonial, paradoxalmente a emergir numa sociedade que vai sendo empobrecida pelas práticas dos que a governam, redistribuindo a riqueza de baixo para cima; o riso que aguardou, domesticado pelos confinamentos da pandemia de Covid 19, o momento de reaparecer. Em Maceda e nas suas aldeias, pouco do Entroido se destina aos de fora, já que a exportação de segmentos festivos não anulou a fruição local, e implica o retorno de quem está longe para vestir os fatos e participar.
Passada a suspensão pandémica, e com a vontade ganha nestes anos de suspensão, os vizinhos de Maceda voltarão provavelmente a rir no seu Entroido, a divertir-se com as suas máscaras, a regressar de longe para as envergar e circular, agitando os chocalhos, nos dias que dura a festa. Riem em grupo, cúmplices, cientes de que possuem uma espécie de idioma social comum, e que eventualmente o seu cómico pode ser intraduzível para os de fora. Por vezes, convém que seja; essa conivência reforça o grupo e acrescenta as razões para o riso, num tempo em que tudo parece efémero, periclitante e perigoso.
3. Tempo cerimonial, entre decadência e revitalização
Numa obra clássica, enfatizava o protagonismo juvenil nos finais do Antigo Regime, com a festa e o jogo a constituírem momentos propícios ao seu desenvolvimento, afirmação e integração, através dos quais demonstravam possuir um conjunto de qualidades estimáveis. Os rapazes encarregavam-se dos charivaris, constantemente interditados pelas autoridades, que salientavam o desagrado por alguns casamentos, arvorando-se o direito de controlo da circulação das raparigas; das cerimónias periódicas, principalmente no Entrudo, no quadro lúdico do mês de junho, ou no ciclo dos 12 dias, espoletando tensões ocultadas durante o resto do ano .
As respostas rituais foram variadas, quando os fluxos de bens e saberes se intensificaram, com eventuais universalizações de formas localizadas e paroquializações de elementos translocais, não necessariamente baseadas na mutualidade. Numa sociedade rural que se alterou rapidamente, com um esvaziamento demográfico e um forte desligamento da agricultura, ocorreram revitalizações festivas, sob formas diversas, após períodos de suspensão que atingiram as cerimónias do ciclo de Inverno que envolvessem jovens. Num tecido populacional puído pelos movimentos migratórios e pela quebra da natalidade, variaram desde a integração do conjunto de vizinhos –convertendo-se em festas da comunidade–, a incorporação precoce de rapazinhos, ou a incorporação das raparigas, que iam conquistando um papel menos desequilibrado nas comunidades. Em alguns casos, emergiram formas de retradicionalização, replicando um formato cristalizado, ou recorreu-se à exportação de segmentos da performance festiva para outros tempos e outros lugares, sob a forma de espetáculo.
As bases da sociedade rural transformaram-se de maneira frenética a partir da Segunda Guerra Mundial, alterando-se igualmente os sistemas de valores vigentes, nomeadamente os comunitários . As modalidades da mudança social e da adequação festiva não se circunscreveram ao âmbito local. Tiveram contiguidades num contexto mais lato, distanciando-se da hegemonia do cristianismo, que as marcou em parte substancial dos últimos dois mil anos. Segundo Marianne Mesnil, a sociedade rural tradicional europeia é a matriz de uma visão do mundo e de um sistema de representações, que assenta em oposições significativas, num contexto cultural comum, que se exprime pelas máscaras . Estas irrompem em momentos específicos e circunscritos estritamente pela sociedade, indicando aos participantes de uma cerimónia a interpretação que deve ser dada aos seus gestos, palavras e comportamentos . Assumem um carácter narrativo, já que através delas se conta uma festa, um contexto social e uma história, assemelhando-se ao grão de areia de Clifford Geertz, através do qual se compreende o todo ; .
Marianne Mesnil afirmava nos anos 1970, que as festas se haviam folclorizado, com um laslettiano sentido do «mundo que nós perdemos». Recorria a Algirdas Julien Greimas para justificar que a festa folclorizada resultava da passagem da etno-semiótica à socio-semiótica, tratando-se de um fenómeno global das sociedades ditas desenvolvidas, sob a forma de discursos disjuntos e autónomos –a poesia, a música, a dança. As modalidades assumidas remetiam menos para o sagrado e mais para o lúdico e para o estético, com expressões poéticas, gestuais ou musicais que evidenciavam uma realização individual, deixando na sombra o seu carácter de manifestação coletiva, na produção e na utilização. Transformadas num espetáculo do que fora a comunidade em festa, as celebrações tornaram-se objeto de consumo, dessemantizando-se progressivamente .
Poucos anos antes, Julio Caro Baroja também pontuava a decadência do Carnaval, que alegadamente se tornara uma “mesquinha diversão de casino pretensioso”, atribuindo o decréscimo da sua importância ao facto da sociedade tentar controlar tudo por decreto, impondo conceções de ordem social e ideais de bom-gosto (Caro Baroja, 1965). Marianne Mesnil insistia no elevado número de festas que se haviam transformado em espetáculo, numa transfiguração que tornara visível a passagem da dimensão lúdica à dimensão estética, com um discurso de produção e consumo diferenciado entre as duas instâncias . A indistinção entre uma cópia e um modelo implicara um simulacro .
Este quadro, delineado nos anos 1960 e 1970, era desenhado para um período mais alongado por Mikhail Bakhtin, para quem os festejos de Carnaval foram essenciais em toda a Idade Média e no Renascimento, decaindo com o romantismo. Sob a influência da cultura burguesa, a festa ter-se-ia reduzido e desnaturalizado, conquanto não desaparecesse. As festas do bobo, do asno, e mesmo o riso pascal estavam consagrados pela tradição, fazendo emergir um mundo segundo e uma segunda vida , uma dualidade indispensável à compreensão da Idade Média e do Renascimento, numa relação essencial entre o riso, o tempo e a sucessão das estações . Os critérios para medir o tempo oscilaram entre o que se repete periodicamente, marcado por estatismo e tradicionalismo, e o tempo aberto e linear, que remete para o irrepetível . Durante a Idade Média, as festas instauravam uma segunda vida para os subalternos, entre liberdade, igualdade e abundância. Pelo contrário, as cerimónias oficiais, cujo objetivo era confirmar uma situação, sancioná-la e revigorá-la, recorriam ao passado para justificar a estabilidade e a perenidade das normas que regiam o mundo, através de hierarquias, valores, normas e tabus religiosos, políticos e morais. A seriedade medieval estava saturada de sentimentos de terror, debilidade, docilidade, resignação, mentira, hipocrisia ou mesmo violência, intimidação, ameaças e proibições; o riso era uma arma popular que vencia a prudência quotidiana nas festas, tomando as praças públicas pela comicidade, a obscenidade e a grosseria das paródias e das imitações burlescas, entre a grã-comida e a embriaguez . A máscara serviria à expressão da alegria das sucessões e reencarnações, da relatividade cómica e da negação da identidade. Tornava proscrito o sentido único, a autoidentificação e a coincidência, ao constituir uma expressão das permutas, das metamorfoses e da violação de fronteiras pela ridicularização, numa relação entre realidade e imagem . Mais tarde, no grotesco romântico, a máscara dissimula, encobre e engana –ou seja, torna-se fúnebre. Concomitantemente, as festas empobrecem e degeneram, embora sem um eclipse total.
Um esboço de viragem na perspetiva da decadência das festas lê-se nas colaborações da obra que Frank Manning organizou em 1983, The celebration of Society. Apesar da industrialização, tornava-se evidente que novas celebrações iam emergindo, enquanto outras, mais antigas, eram revivificadas numa escala sem precedentes: esse aumento estaria associado com o crescimento do lazer e do consumo nas sociedades contemporâneas (Manning, 1983). No mesmo ano, Eric Hobsbawm e Terence Ranger editariam The invention of Tradition, reportando-se às práticas de natureza ritual e simbólica, reguladas por regras aceites, tácita ou claramente, e assentes na invariabilidade, que visam inculcar certos valores e normas de comportamento pela repetição, implicando de forma automática uma continuidade em relação ao passado. Enfatizam o papel das transformações sociais aceleradas, que conduzem à necessidade de proceder ao engendramento de novas tradições, recolocando-as como criações, em algum momento inventadas. Quando as anteriores se tornam obsoletas, ou quando os promotores e divulgadores institucionais perderam capacidade de adaptação e flexibilidade, reelabora-se o passado de grupos que sejam considerados os repositórios da continuidade histórica e da tradição . Como demonstraria David Lowenthal usando as palavras de Hartley, o passado é um país estrangeiro, visitável e apto a ser recriado como artefacto do presente .
No sul da Europa, em meados dos anos 1970 haviam sido derrubadas três ditaduras. Na Grécia, a Junta Militar tombaria em 1974. Em Portugal, o golpe militar de 25 de Abril de 1974 foi aproveitado por uma parte significativa da população para fazer uma revolução, e surgiram novas condições para apropriar as festas. No ano seguinte, morria Franco, abrindo caminho para alterações políticas, conquanto muito pactuadas, em Espanha. As vagas migratórias, que haviam esvaziado estes três países, tinham acarretado um decréscimo da atitude festiva, bem como um distanciamento em relação às formas rurais anteriores. Estas duas circunstâncias –sangria demográfica e desarticulação agrícola– conduziram em alguns casos à inversão dos festejos do calendário agrícola que integravam o ciclo de Inverno, que ressurgiam no Verão, aproveitando o retorno dos emigrantes em férias. Num contexto que mudou, com o espaço rural a autonomizar-se da agricultura, as alterações tiveram reflexos significativos na relação entre a sociedade e o espaço, com o crescendo da florestação dos terrenos por cultivar, com o abandono ou novas utilizações dos campos, em função da procura urbana. Devido à perda de abrangência da agricultura na ocupação do espaço rural, surgiram outras utilizações. A explosão dos meios de comunicação social provocou um forte efeito de retorno e uma disseminação das formas rituais, devido a uma crescente autoconsciência dos seus efeitos performativos.
Nas condições de existência que resultam do afastamento massivo do espaço rural, a vida nas cidades conduziu a uma valorização do «tradicional», do autêntico e dos rituais que lhe estariam associados. Como lembra Raymond Williams, em fases de transição, as virtudes entendem-se como parte inequívoca do passado, de um período da vida campestre anterior e já perdido (Williams, 2001:106). A busca da autenticidade surge associada à conceção de qualidade de vida, à redescoberta da vida rural e a um concomitante interesse pelos «produtos naturais», «biológicos», com «denominação de origem», «caseiros», «tradicionais». A mercadorização da diferença enquadrou a intensa procura de diferenciação e de desmassificação , na busca de novos caminhos para o lucro. Essa poderosa força de transformação do capitalismo conduziu a uma ultrapassagem da saturação dos mercados pela criação de novos produtos e serviços, que mercantilizou o que ficara até então fora dessa esfera . Assim viria a suceder com segmentos festivos, corroborando o que Karl Marx escrevera n’ O Capital: mesmo um produto que já exista sob uma forma que o torna apropriado ao consumo pode tornar-se por sua vez matéria-prima de um outro produto (apud , numa superação do valor de uso pelo valor de troca.
A partir de um painel dedicado às questões rituais na conferência da EASA de 1991, Jeremy Boissevain edita um volume, intitulado Revitalizing European Rituals, em cuja introdução afirma que as celebrações públicas na Europa estão a aumentar . Os turistas desempenhavam um importante papel, numa articulação entre as indústrias do lazer e os novos ciclos produtivos, trazendo uma audiência de estranhos a celebrações antes mais localizadas. Boissevain aponta vários modos de revitalização festiva, incorporando as tradições, através de modalidades de renegociação de identidade e um correlativo realinhamento de fronteiras. À invenção, no sentido atribuído ao termo pelo trabalho de , e à concomitante inovação, juntam-se algumas formas de revitalização festiva que injetam nova energia em rituais anteriores, sob modalidades variadas: a reanimação, quando se retoma uma festividade que tenha estado suspensa por vários anos; a ressuscitação, quando uma celebração foi interrompida por um largo período e posteriormente exumada; a retradicionalização, quando reaparece, reestruturada e pretendendo-se mais autêntica; a folclorização, quando exibida fora de contexto . Esta última situação ocorre quando é realizada noutro momento do ano tempo e/ou noutro espaço, em performances públicas, em que agentes externos e locais servem como impulsionadores da folclorização.
A esfera da cultura, essencializada e retirada dos processos históricos, foi longamente associada às particularidades de um lugar, de uma região, de uma nação, assumindo o isomorfismo entre local e cultura. Ao refletirem sobre a cultura como o domínio da existência em que as pessoas orientam as suas vidas, individual e coletivamente, envolvendo práticas em que o sentido é gerado e formas materiais em que é incorporado, Jonathan Inda e Renato Rosaldo enfatizam o tráfico de sentidos inerente à cultura em movimento, através de um neologismo de termos gémeos siameses: des/territorialização . O desenraizamento da cultura é só metade da história, com a sua reinserção em novos contextos de espaço e tempo a constituir outra metade. Para estes autores, a cultura globalizada não é nunca simplesmente a cultura desterritorializada, já que volta a re-territorializar-se. Todavia, como demonstram , este procedimento surge travestido em trocas unipessoais que simulam a igualdade dos protagonistas, em conformidade com o modelo das transações comerciais . Com a dominação camuflada, dá a ilusão de uma relação de reciprocidade equilibrada. Em algumas festas com segmentos expressivos e materiais mais espetaculares pode assistir-se à conversão em mercadoria e à projeção para novos palcos, numa insidiosa modalidade que, ao introduzir no mercado o que estava arredado da esfera capitalista, indica a sua não-mercantilização como valor acrescido.
Como notam Luc Boltanski e Ève Chiapello, aliada a uma sociedade em rede, a desconstrução da noção antiga de autenticidade –como fidelidade, como resistência à pressão de outros, como prosseguimento de um ideal– torna-se uma evidência do desdobramento do capitalismo, com uma capacidade autotrófica que lhe permitiu recuperar e mercantilizar a busca dessa «autenticidade», subjacente à crítica da sociedade de consumo . Com sombras de melancolia, Guy Debord nota que o consumidor real se converte num consumidor de ilusões: a mercadoria torna a ilusão real, e o espetáculo constitui a sua manifestação geral .
As trasladações de elementos festivos para um tempo, um espaço e um contexto social diferentes acarretariam uma perda de aura, desembaraçando-os da tradição, com uma substituição do seu carácter único pela ocorrência massiva, multiplicando-o através da cópia, . Outros salientam as possibilidades abertas pela recontextualização das «tradições desenraizadas», permitindo que viajem no espaço e no tempo, com os media : a mediatização da tradição ter-lhe-ia conferido novo vigor, ao libertá-la progressivamente da limitação da interação local, concedendo-lhe novas características distintivas. Ao desritualizá-la, tê-la-ia feito perder os laços com a experiência da vida quotidiana das pessoas, preparando em concomitância o caminho para a sua renovação e reincorporação em novos contextos e unidades espaciais situadas além da interação localizada.
Se Marianne Mesnil fora enfática na referência à dessemantização das festas, com uma quebra do valor de uso, a necessidade de ressemantização foi inerente à adequação do sentido a outras situações, inserida em formatos translocais e em economias de mercado, com valor de troca. Uma mudança significativa prendeu-se com a espectacularização de certos momentos festivos, localmente ligados à construção de identidades, que passam a servir para a afirmação de poderes políticos infranacionais, conjugados com investimentos por parte de entidades municipais e empresariais, que esperam igualmente efeitos de retorno.
Numa sociedade mais circunscrita, com uma evidente perceção das quantidades limitadas de terra pertencentes a cada unidade produtiva –a casa–, adstrita a sistemas de relações longamente apresentados pelo lado da cooperação e o comunitarismo, as cerimónias do ciclo do Inverno comportavam uma vertente de inversão e crítica social, que remetia para o segredo, o discurso escondido e a resistência. Como não existe possibilidade de ação sem alguma encenação (George Elliot apud , quando se utilizava ritualmente a máscara, podia desafivelar-se a que se trazia no quotidiano, associada à modalidade de convivência e sobrevivência durante todo o ano. O discurso escondido representa os gestos, a fala e as práticas normalmente escamoteados ao discurso público, devido à prática de dominação . Em consonância com a perceção de Bakhtin acerca da festa medieval e renascentista na Europa, James C. Scott vai alertar para a dupla consciência, através da qual se nega e inverte uma dominação particular, com uma vida dupla, com pensamentos duplos, deveres duplos, classes sociais duplas, que dá lugar a palavras e ideais dúplices, que subjazem à hipocrisia ou ao radicalismo (W.E.B. du Bois cit. , a partir de um trabalho de campo na Malásia. Ao invés dessa utilização do registo oculto, as festas e as suas máscaras inserem-se contemporaneamente num processo de emblematização, com algumas das alfaias rituais –fatos, máscaras, cajados, chocalhos– a transformarem-se em insígnias, paradoxalmente visíveis e expostas, convertidas em património que é projetado para o exterior. Numa busca que decorre de novas condições, “O espaço rural procura novos contornos. Depois dos efeitos da emigração e da partida para as cidades, que marcaram os primeiros tempos da erosão da ordem tradicional dos campos, vive-se, agora, uma transição rural associada ao declínio da hegemonia da agricultura e à identificação do espaços rural como um espaço de consumo. Um dos caminhos desta transição passa pelo património rural.” , num tempo que se tornou «pseudo-cíclico», na expressão de Guy Debord.
4. Em jeito de conclusão: uma teimosa alegria, entre festas, carnavais e superação da melancolia
En la vida lo importante sucede en la exacta mitad del salto.
Entonces hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra,
pero sobre todo hay que atreverse a saltar.
Armando Bartra
Visitar as aldeias da serra de S. Mamede em dias de Entroido é deparar com mesas postas e os vizinhos na rua, a aguardarem a chegada do autocarro em que se deslocam os felos, que partem à desfilada pelas ruas, e param a recuperar os esforços, a comer empanadas, filloas e outras vitualhas, e a beber cerveja ou café quente. Nesses poucos momentos, retiram as máscaras e dispõem-nas alinhadas, belas, oferecendo-se às camaras dos telemóveis ou às dos fotógrafos, numa exibição criativa que projeta para fora e para longe um dos elementos da festa local. Devido à perda demográfica, as aldeias carecem de capacidade cerimonial autónoma. Agregam esforços, através das associações locais, com o apoio do concello, como outrora se juntavam a nível aldeão, superando quezílias quotidianas de quem partilha um idêntico espaço.
Agora, leva-se a festa às aldeias, no autocarro em que se deslocam os felos, e concentra-se em Maceda alguns segmentos cerimoniais, a que acorrem forâneos, sobretudo vindos das cidades galegas, em busca da autenticidade de um carnaval que não se agigantou nem festivalizou, como sucedeu com alguns outros. Aqui, como noutros pontos da Galiza, a opção foi juntar, no espaço e no tempo, com a concentração dos folguedos em menos dias, e com um desfile dos felos com as suas tropelias, a crítica e a transgressão num local central, sem prescindir da visita às aldeias. O grotesco carnavalesco foi remetido para a vila, mantendo-se um modo de emancipação associado a este período que carnavaliza a política e politiza o carnaval. Se Daniel Bensaïd receava que, depois do espetáculo, estádio supremo do fetichismo da mercadoria, segundo Guy Debord, chegasse a hora do simulacro, estádio supremo do mesmo espectáculo , em Maceda tenta-se ir além do merencório, e superar a melancolia que invade os quotidianos , numa rutura e abandono do tempo progressivo, com uma revolução grotesca e carnavalesca .
À revelia das perspetivas decadentistas acerca das festas transgressoras, o filósofo e antropólogo mexicano Armando Bartra salienta que as mudanças carnavalescas, mais do que um processo viável, são uma experiência em curso, em que se aposta não nas possibilidades contidas no presente, mas no impossível, no que não pode ser, não só pelo gozo instantâneo, mas pelo desejo . Se, com Guy Debord, a sociedade do espetáculo elimina a história e destrói os projetos críticos (Michel Löwy em , carnavalizar é apostar na inversão, no inconcluso, no imperfeito, no antinómico, no que se excede e franqueia os próprios limites, numa aporia do tempo .
O Carnaval, arrancado à Quaresma, tira o medo, e traz dentro uma liberdade, que se conquista ao ser exercida, num «grupo em fusão» (Sartre apud . Os momentos de liberdade sobre os quais escreveu são pautados pela poesia e não pela prosa, segundo Armando Bartra, pela «política da imaginação», na linha de Bachelard, pelas ações tumultuárias com aura (com Walter Benjamin), pelas situações carismáticas (através de Max Weber), pelos momentos de efervescência social, em que se tocam o sagrado e o profano (invocando Durkheim), pelos saltos para fora do férreo curso do progresso (com Horkheimer), pela catarse política (em Gramsci), pela paixão (com Croce) e o desejo (apelando a Freud, Lacan ou Deleuze), pela profanação (com Giorgio Agamben) e a violência divina (de novo, com Benjamin), pelo grupo em fusão e pelas suas angústias (com Jean-Paul Sartre), em ritos políticos que atualizam mitos revolucionários (com Sorel e Mariátegui), pela ação criativa, corporizada e contingente (com Hans Joas), pelas bruxas e afins (em alusão a Michelet e Ginsburg), e pela gargalhada popular, através de Rabelais, Montaigne, Bakhtin . Transporta-nos para instantes privilegiados, provocados por ações coletivas, que suspendem a moral imperante e apontam uma nova, ao mesmo tempo que interrompem o sentido pré-existente e quotidiano, e o ressignificam . Pensar o Entroido apesar da Quarta-feira de Cinzas é o que fazem os vizinhos da serra de São Mamede, nos limites de Maceda, sem temer o momento de despertar, de se apearem da nuvem, do desencanto, da profanação ou da inércia, e suplantando as rotinas racionais e normativas, em que se avalia o custo/lucro de cada ato. Embora suceda por um curto período de tempo, sacode a duração e transporta impossibilidades do quotidiano para dentro do campo das possibilidades: as brechas, as quebras, os fractais, os presentes liminares são terras de ninguém, entre o passado e o futuro , bem mais do que ressignificações do passado .
Bibliografía
1
2
3
4
5
6
7
8
12
13
19
20
21
22
Godinho, Paula (2012) “Da felonia – Apontamentos sobre a risa e o entroido de Maceda”, Santiago de Compostela, Caderno Amastra-N-Gallar, http://issuu.com/felosdemaceda/docs/da_felonia
23
24
Godinho, Paula (2020) “Aporias e paradoxos numa festa de Inverno no nordeste de Portugal”, TRANS-Revista Transcultural de Música / Transcultural Music Review, 23, 1-17 http://www.sibetrans.com/trans/public/docs/5db-final-trans-2019_1.pdf
25
26
27
28
31
32
34
35
36
37
38
39
41
Notas
[1] Esta etnografia, atualizada por revisitações posteriores, teve uma primeira publicação em Godinho, 2012, numa edição não venal, de escassos exemplares, destinada a circular entre amigos e algumas livrarias galegas. O texto tem várias alterações, conquanto a base etnográfica seja idêntica.
[2] Sobre o “Meco” como máscara carnavalesca, escreve Taboada Chivite que é análoga aos felos, peliqueiros e entroidos, porque todos se inserem num ciclo de renovação cosmogónica e vegetativa .
[3] Honório M. Velasco refere seis formatos de mudança cerimonial no caso espanhol: (1) trasladação da festa, sob o mesmo padroeiro, com a eficácia da mudança a ser demonstrada pela afluência dos emigrantes; (2) duplicação da festa, encontrando uma segunda data, sobretudo durante o mês de Agosto; (3) duplicação da festa, que fica abarcada nas “Festas de Verão” –mais laica, pautada por jogos, exposições e concertos, que propiciam o encontro de pessoas, como forma moderna de intensificação das relações sociais– embora continue a manter-se a celebração na data anterior; (4) realçar e dinamizar uma festa que anteriormente era menor, nomeadamente de santos adequadamente situados na temporada de férias; (5) criar uma festa menor como recordação da maior, no caso das festas que não podem ser trasladadas, fazendo reaparecer, por exemplo, no Verão, máscaras do ciclo do Inverno; (6) criar uma festa nova, que convoca sobretudo quem está fora, sob o formato de “festa do emigrante” .
[4] Também Harvey Cox considerava que a festa e a fantasia se haviam desvalorizado, comparativamente ao tempo dos loucos sagrados, dos visionários místicos e de um calendário repleto de festas . Associava o declínio da festa e da fantasia à industrialização, a primeira ligada à memória e a segunda à esperança, que teria tornado as pessoas mais sérias e trabalhadoras, embora menos alegres e imaginativas. A ciência e a tecnologia teriam erodido as metáforas religiosas, no interior das quais a fantasia poderia vagabundear, encaminhando para o exequível e para a desaparição das festas, com a vida a tornar-se mais morna e sombria, pela repressão do ímpeto de celebração e imaginação . Pela mesma época, Jean Duvignaud comungava esta perspectiva de decadência e descaminho, ao constatar que as civilizações ditas industriais não conheciam a festa .
[5] Os autores entendem as tradições inventadas como indícios que permitem estudar melhor outros temas e lembram que o recurso à invenção de tradições não implica que não haja velhos costumes disponíveis, nem que sejam inviáveis, mas antes que, deliberadamente, não são usados nem adaptados. Em suma, não é preciso inventar tradições quando os antigos usos ainda se mantêm .
[6] Como reitera Fernando Oliveira Baptista, que já tratara o tema “Da questão da terra agrícola passou-se a uma questão do espaço, centrada na definição da relação entre este e a sociedade, que hoje já não é mediada (regulada) pela agricultura” . Ver também .
[7] Na década de 1950, quer em Portugal, quer em Espanha, mais de metade da população ativa dedicava-se à agricultura, que contribuía com 30% do PIB; hoje são menos de 10% os que nela trabalham, e constitui menos de 4% do PIB .
[8] Se, para os filhos de alguns emigrados, as celebrações levadas a cabo na terra de origem podem ser entendidas como antiquadas, já assim não sucede quando os media se mostram particularmente entusiásticos, como sucede, em Portugal, com as festas de Inverno.
[9] Daniel Miller salienta a importância de se atender à forma como as pessoas gastam o seu dinheiro, construindo mundos através dele, numa aceção próxima da «obra da imaginação», nos termos de Arjun Appadurai. Sugere que não se reduza o grau em que a produção industrial seguiu, mais do que encabeçou, estes elementos de mudança social (Miller, 1995), insurgindo-se contra as aproximações académicas condenatórias que encaram a diversidade como representando uma nova superficialidade e uma forma alienada de existência (Miller, 1995:10).